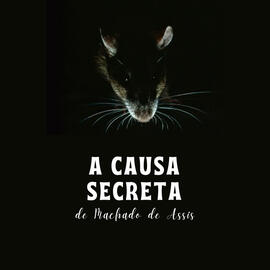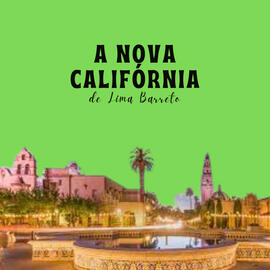18⠀⠀⠀ ͏͏͏͏͏͏ ͏͏͏͏͏͏⠀⠀151⠀⠀⠀⠀ ͏͏͏͏͏͏ ͏͏͏͏͏͏⠀118
⠀Posts⠀ ͏͏͏͏͏͏⠀Seguidores⠀ ͏͏͏͏͏͏Seguindo
Revista Escola E-Cotidiano
Acervo de contos
O OLHO TORTO DE ALEXANDRE
Graciliano Ramos
— Esse caso que vossemecê escorreu é uma beleza, seu Alexandre, opinou seu Libório. E eu fiquei pensando em fazer dele uma cantiga para cantar na viola.
— Boa ideia, concordou o cego preto Firmino. Era o que seu Libório devia fazer, que tem cadência e sabe o negócio. Mas aí, se me dão licença... Não é por querer falar mal, não senhor.
— Diga, seu Firmino, convidou Alexandre.
— Pois é, tornou o cego. Vossemecê não se ofenda, eu não gosto de ofender ninguém. Mas nasci com o coração perto da goela. Tenho culpa de ter nascido assim? Quando acerto num caminho, vou até topar.
— Destampe logo, seu Firmino, resmungou Alexandre enjoado. Para que essas nove-horas?
— Então, como o dono da casa manda, lá vai tempo. Essa história da onça era diferente a semana passada. Seu Alexandre já montou na onça três vezes, e no princípio não falou no espinheiro.
Alexandre indignou-se, engasgou-se, e quando tomou fôlego, desejou torcer o pescoço do negro:
— Seu Firmino, eu moro nesta ribeira há um bando de anos, todo o mundo me conhece, e nunca ninguém pôs em dúvida a minha palavra.
— Não se aperreie não, seu Alexandre. É que há umas novidades na conversa. A moita de espinho apareceu agora.
— Mas, seu Firmino, replicou Alexandre, é exatamente o espinheiro que tem importância. Como é que eu me iria esquecer do espinheiro? A onça não vale nada, seu Firmino, a onça é coisa à toa. Onças de bom gênio há muitas. O senhor nunca viu? Ah! Desculpe, nem me lembrava de que o senhor não enxerga. Pois nos circos há onças bem ensinadas, foi o que me garantiu meu mano mais novo, homem sabido, tão sabido que chegou a tenente de polícia. Acho até que as onças todas seriam mansas como carneiros, se a gente tomasse o trabalho de botar os arreios nelas. Vossemecê pensa de outra forma? Então sabe mais que meu irmão tenente, pessoa que viajou nas cidades grandes.
Cesária manifestou-se:
— A opinião de seu Firmino mostra que ele não é traquejado. Quando a gente conta um caso, conta o principal, não vai esmiuçar tudo.
— Certamente, concordou Alexandre. Mas o espinheiro eu não esqueci. Como é que havia de esquecer o espinheiro, uma coisa que influiu tanto na minha vida?
Aí Alexandre, magoado com a objeção do negro, declarou aos amigos que ia calar-se. Detestava exageros, só dizia o que se tinha passado, mas como na sala havia quem duvidasse dele, metia a viola no saco. Mestre Gaudêncio curandeiro e seu Libório cantador procuraram com bons modos resolver a questão, juraram que a palavra de seu Alexandre era uma escritura, e o cego preto Firmino desculpou-se rosnando.
— Conte, meu padrinho, rogou Das Dores.
Alexandre resistiu meia hora, cheio de melindres, e voltou às boas.
— Está bem, está bem. Como os amigos insistem...
Cesária levantou-se, foi buscar uma garrafa de cachimbo e uma xícara. Beberam todos, Alexandre se desanuviou e falou assim:
— Acabou-se. Vou dizer aos amigos como arranjei este defeito no olho. E aí seu Firmino há de ver que eu não podia esquecer o espinheiro, está ouvindo? Prestem atenção, para não me virem com perguntas e razões como as de seu Firmino. Ora muito bem. Naquele dia, quando o pessoal lá de casa cobrou a fala, depois do susto que a onça tinha causado à gente, meu pai reparou em mim e botou as mãos na cabeça: — “Valha-me, Nossa Senhora. Que foi que lhe aconteceu, Xandu?” Fiquei meio besta, sem entender o que ele queria dizer, mas logo percebi que todos se espantavam. Devia ser por causa da minha roupa, que estava uma lástima, completamente esmolambada. Imaginem. Voar pela capueira no escuro, trepado naquele demônio. Mas a admiração de meu pai não era por causa da roupa, não.— “Que é que você tem na cara, Xandu?” perguntou ele agoniado. Meu irmão tenente (que naquele tempo ainda não era tenente) me trouxe um espelho. Uma desgraça, meus amigos, nem queiram saber. Antes de me espiar no vidro, tive uma surpresa: notei que só distinguia metade das pessoas e das coisas. Era extraordinário. Minha mãe estava diante de mim, e, por mais que me esforçasse, eu não conseguia ver todo o corpo dela. Meu irmão me aparecia com um braço e uma perna, e o espelho que me entregou estava partido pelo meio, era um pedaço de espelho. “Que trapalhada será esta?” disse comigo. E nada de atinar com a explicação. Quando me vi no caco de vidro é que percebi o negócio. Estava com o focinho em miséria: arranhado, lanhado, cortado, e o pior é que o olho esquerdo tinha levado sumiço. A princípio não abarquei o tamanho do desastre, porque só avistava uma banda do rosto. Mas virando o espelho, via o outro lado, enquanto o primeiro se sumia. Tinha perdido o olho esquerdo, e era por isso que enxergava as coisas incompletas. Baixei a cabeça, triste, assuntando na infelicidade e procurando um jeito de me curar. Não havia curandeiro nem rezador que me endireitasse, pois mezinha e reza servem pouco a uma criatura sem olho, não é verdade, seu Gaudêncio? Minha família começou a fazer perguntas, mas eu estava zonzo, sem vontade de conversar, e saí dali, fui-me encostar num canto da cerca do curral. Com a ligeireza da carreira, nem tinha sentido as esfoladuras e o golpe medonho. Como é que eu podia saber o lugar da desgraça? Calculei que devia ser o espinheiro e logo me veio a ideia de examinar a coisa de perto. Saltei no lombo de um cavalo e larguei-me para o bebedouro, daí ganhei o mato, acompanhando o rasto da onça. Caminhei, caminhei, e enquanto caminhava ia-me chegando uma esperança. Era possível que não estivesse tudo perdido. Se encontrasse o meu olho, talvez ele pegasse de novo e tapasse aquele buraco vermelho que eu tinha no rosto. A vista não ia voltar, certamente, mas pelo menos eu arrumaria boa figura. À tardinha cheguei ao espinheiro, que logo reconheci, porque, como os senhores já sabem, a onça tinha caído dentro dele e havia ali um estrago feio: galhos rebentados, o chão coberto de folhas, cabelos e sangue nas cascas do pau. Enfim um sarapatel brabo. Apeei-me e andei uma hora caçando o diacho do olho. Trabalho perdido. E já estava desanimado, quando o infeliz me bateu na cara de supetão, murcho, seco, espetado na ponta de um garrancho todo coberto de moscas. Peguei nele com muito cuidado, limpei-o na manga da camisa para tirar a poeira, depois encaixei-o no buraco vazio e ensanguentado. E foi um espanto, meus amigos, ainda hoje me arrepio. Querem saber o que aconteceu? Vi a cabeça por dentro, vi os miolos, e nos miolos muito brancos as figuras de pessoas em que eu pensava naquele momento. Sim senhores, vi meu pai, minha mãe, meu irmão tenente, os negros, tudo miudinho, do tamanho de caroços de milho. É verdade. Baixando a vista, percebi o coração, as tripas, o bofe, nem sei que mais. Assombrei-me. Estaria malucando? Enquanto enxergava o interior do corpo, via também o que estava fora, as catingueiras, os mandacarus, o céu e a moita de espinhos, mas tudo isso aparecia cortado, como já expliquei: havia apenas uma parte das plantas, do céu, do coração, das tripas, das figuras que se mexiam na minha cabeça. Refletindo, consegui adivinhar a razão daquele milagre: o olho tinha sido colocado pelo avesso. Compreendem? Colocado pelo avesso. Por isso apanhava os pensamentos, o bofe e o resto. Tenho rolado por este mundo, meus amigos, assisti a muita embrulhada, mas essa foi a maior de todas, não foi, Cesária?
— Foi, Alexandre, respondeu Cesária levantando-se e acendendo o cachimbo de barro no candeeiro. Essa foi diferente das outras.
— Pois é, continuou Alexandre. Só havia metade das nuvens, metade dos urubus que voavam nelas, metade dos pés de pau. E do outro lado metade do coração, que fazia tuque, tuque, tuque, metade das tripas e do bofe, metade de meu pai, de minha mãe, de meu irmão tenente, dos negros e da onça, que funcionavam na minha cabeça. Meti o dedo no buraco do rosto, virei o olho e tudo se tornou direito, sim senhores. Aqueles troços do interior se sumiram, mas o mundo verdadeiro ficou mais perfeito que antigamente. Quando me vi no espelho, depois, é que notei que o olho estava torto. Valia a pena consertá-lo? Não valia, foi o que eu disse comigo. Para que bulir no que está quieto? E acreditem vossemecês que este olho atravessado é melhor que o outro.
Alexandre bocejou, estirou os braços e esperou a aprovação dos ouvintes. Cesária balançou a cabeça, Das Dores bateu palmas e seu Libório felicitou o dono da casa:
— Muito bem, seu Alexandre, o senhor é um bicho. Vou botar essas coisas em cantoria. O olho esquerdo melhor que o direito, não é, seu Alexandre?
— Isso mesmo, seu Libório. Vejo bem por ele, graças a Deus. Vejo até demais. Um dia destes apareceu um veado ali no monte...
O cego preto Firmino interrompeu-o:
— E a onça? Que fim levou a onça que ficou presa no mourão, seu Alexandre?
Alexandre enxugou a testa suada na varanda da rede e explicou-se:
— É verdade, seu Firmino, falta a onça. Ia-me esquecendo dela. Ocupado com um caso mais importante, larguei a pobre. A onça misturou-se com o gado, no curral, mas começou a entristecer e nunca mais fez ação. Só se dava bem comendo carne fresca. Tentei acostumá-la a outra comida, sabugo de milho, caroço de algodão. Coitada. Estranhou a mudança e perdeu o apetite. Por fim ninguém tinha medo dela. E a bicha andava pelo pátio, banzeira, com o rabo entre as pernas, o focinho no chão. Viveu pouco. Finou-se devagarinho, no chiqueiro das cabras, junto do bode velho, que fez boa camaradagem com a infeliz. Tive pena, seu Firmino, e mandei curtir o couro dela, que meu irmão tenente levou quando entrou na polícia. Perguntem a Cesária.
— Não é preciso, respondeu seu Libório cantador. Essa história está muito bem amarrada. E a palavra de seu Alexandre é um evangelho.
O RETRATO OVAL
Edgar Allan Poe
O castelo onde o meu criado achara por bem penetrar à força, em vez de me condenar, deploravelmente ferido como eu estava, a passar uma noite ao relento, era uma dessas construções, misto de grandeza e de melancolia, que por longo tempo ergueram a sua fronte orgulhosa no meio dos Apeninos, tanto na realidade como na imaginação da Sra. Radcliffe. Segundo toda a aparência, tinha sido temporária e recentemente abandonado.
Instalamo-nos numa das dependências menos amplas e menos suntuosamente mobiladas, situada numa torre afastada do edifício. A sua decoração era rica, mas antiquada e em ruínas. As paredes, ornamentadas com numerosos troféus heráldicos de todas as formas, eram cobertas de tapeçarias, assim como de uma coleção prodigiosa de pinturas modernas, de grande estilo, em ricas molduras de ouro ao gosto arabesco.
Tomei profundo interesse — talvez fosse o meu delírio a causa disso — por esses quadros, suspensos não só nas principais paredes mas também nos inúmeros recantos que a extravagante arquitetura do castelo tornava inevitáveis. E de tal modo que mandei Peter fechar as pesadas portas das janelas do aposento — pois era já noite —, acender um grande candelabro de vários braços, colocado junto da minha cabeceira, e abrir de par em par os reposteiros de veludo preto, guarnecidos de franjas, que cercavam o leito. Dei estas ordens para que, ao menos, no caso de eu não poder dormir, me deleitasse alternadamente com a contemplação dessas pinturas e com a leitura de um pequeno volume que encontrara sobre o travesseiro e que continha a descrição e a análise dos quadros.
Li durante muito tempo, muito tempo. Contemplei religiosamente, devotamente. As horas consumiam-se, rápidas e gloriosas, e chegou a profunda meia-noite. A posição do candelabro não me agradava; por isso, estendendo a mão com dificuldade, para não incomodar o meu criado que repousava, coloquei o objeto de maneira que fizesse incidir os seus raios plenamente sobre o livro.
Mas o efeito produzido foi absolutamente inesperado. Os raios de luz das numerosas velas (porque eram muitas) caíram então sobre um recanto do quarto que até aí uma das colunas do leito mergulhara em sombra densa. Vi à luz viva uma pintura que, a princípio, me tinha passado despercebida. Era o retrato de uma jovem já amadurecida, quase mulher. Deitei ao quadro um olhar rápido e fechei os olhos. Porquê? Ao princípio eu próprio não soube por quê. Mas, enquanto mantinha as pálpebras fechadas, analisei rapidamente a causa que me obrigara a fechá-las assim. Fora um movimento voluntário para ganhar tempo e para pensar — para me certificar de que a vista não me enganara, para acalmar e preparar o espírito para uma contemplação mais a frio e mais segura. Ao fim de alguns instantes, olhei de novo fixamente para o quadro.
Não podia duvidar, mesmo que quisesse, de que via então com toda a nitidez, pois o primeiro fulgor do candelabro sobre aquela tela dissipara o espanto e o devaneio de que os meus sentidos estavam possuídos, e chamara-me num instante à vida real.
O retrato, como já disse, era o de uma jovem mulher. Era simplesmente uma cabeça, com as espáduas, tudo naquele estilo que se chama, em linguagem técnica, estilo de vinheta, bastante à maneira de Sully nas suas cabeças prediletas. Os braços, o seio e até a extremidade dos cabelos radiosos fundiam-se imperceptivelmente na sombra vaga, mas profunda, que dava contraste ao conjunto. O caixilho era oval, magnificamente dourado e lavrado em metal, ao gosto mourisco. Como obra de arte, não se podia encontrar nada mais digno de admiração do que a própria pintura. Mas é possível que não fosse nem a execução da obra nem a imortal beleza da fisionomia o que tão de súbito e tão fortemente me impressionou. Ainda menos devo acreditar que a minha imaginação, saída de uma meia sonolência, tivesse tomado a cabeça pela de uma pessoa viva. Antes de mais compreendi que os pormenores do desenho, o estilo de vinheta e o aspecto da moldura teriam imediatamente dissipado tal sortilégio e me preservariam de qualquer ilusão por momentânea que fosse. Enquanto fazia e aprofundava estas reflexões, conservei-me meio estendido, meio sentado, uma hora inteira talvez, com os olhos pregados naquele retrato. Por fim, depois de ter descoberto o verdadeiro segredo do efeito que ele produzia, deixei-me cair de novo no leito. Adivinhara que o encanto da pintura residia numa expressão vital absolutamente adequada à própria vida, que a princípio me fizera estremecer e, finalmente, me deixara confuso, subjugado, amedrontado. Com profundo e respeitoso terror, tornei a pôr o candelabro na sua posição primitiva. Depois de ter assim furtado aos meus olhos a causa de tão grande perturbação, procurei vivamente o livro que continha a análise dos quadros e a sua história. Indo direito ao número que designava o retrato oval, li o vago e singular relato que se segue:
“Era uma jovem de raríssima beleza e não menos gentil que alegre. Maldita foi a hora em que ela viu, amou e desposou o pintor. Este, apaixonado, estudioso, austero, já tinha encontrado esposa na sua Arte; ela, jovem de rara beleza e não menos gentil que alegre, toda luz e sorrisos, com o feitio folgazão duma corça nova, amando com ternura todas as coisas e odiando apenas a Arte, que era sua rival, só temia a paleta e os pincéis, e os outros instrumentos que a privavam da presença do seu bem-amado. Terrível coisa foi para a dama ouvir o pintor exteriorizar o desejo de pintar também a sua jovem esposa. Mas ela, humilde e obediente, posou durante longas semanas, na sombria e alta câmara da torre, onde a luz se filtrava unicamente pelo teto e incidia sobre a desmaiada tela. Ele, porém, o pintor, punha toda a sua glória naquela obra, que progredia de hora para hora. Era um homem apaixonado, estranho, meditabundo, perdido em devaneios. E de tal maneira que não queria ver como a luz que tão lugubremente caía naquela torre isolada ressequia a saúde e o espírito de sua mulher, que definhava visivelmente para toda a gente, menos para ele. E ela sorria sempre, sempre, sem se queixar, pois via que o pintor — de tão grande renome — sentia vivo e ardente prazer na sua tarefa, e trabalhava noite e dia para pintar aquela que tão ternamente amava — mas que enlanguescia, cada vez mais, de dia para dia. E, na verdade, aqueles que contemplavam o retrato falavam em voz baixa da semelhança, como de extrema maravilha, como de uma prova do talento do pintor, não menor que o seu amor profundo por aquela que ele tão miraculosamente pintava.
Um dia, contudo, quando a tarefa estava no fim, ninguém mais foi admitido na torre. O pintor enlouquecera com o ardor que punha no seu trabalho e raramente desviava o olhar da tela, mesmo para contemplar o rosto da mulher. Ele não queria ver que as cores que espalhava na tela eram tiradas das faces daquela que estava junto de si. E quando muitas semanas já se tinham passado e muito pouco restava para fazer, nada mais que um retoque na boca e uns laivos nos olhos, o espírito da retratada ainda palpitou como a chama viva de uma lâmpada. Foi, então, feito o retoque e postos os laivos; e, por momentos, o pintor quedou-se em êxtase diante do trabalho concluído. Mas, um minuto depois, ainda a contemplá-lo, ele estremeceu e, tomado de assombro, gritou com voz estrepitosa: ‘Mas é a própria Vida’. E, então, bruscamente, voltou-se para contemplar a sua bem-amada: — Estava morta!”
OS SETE CORVOS
Irmãos Grimm
Era uma vez um homem que tinha sete filhos, todos meninos, e vivia suspirando por uma menina. Afinal, um dia, a mulher anunciou-lhe que estava mais uma vez esperando criança.
No tempo certo, quando ela deu à luz, veio uma menina. Foi imensa a alegria deles. Mas, ao mesmo tempo, ficaram muito preocupados, pois a recém-nascida era pequena e fraquinha, e precisava ser batizada com urgência.
Então, o pai mandou um dos filhos ir bem depressa até a fonte e trazer água para o batismo. O menino foi correndo e, atrás dele, seus seis irmãos. Chegando lá, cada um queria encher o cântaro primeiro; na disputa, o cântaro caiu na água e desapareceu.
Os meninos ficaram sem saber o que fazer. Em casa, como eles estavam demorando muito, o pai disse, impaciente:
— Na certa, ficaram brincando e se esqueceram da
vida!
E, cada vez mais angustiado, exclamou com raiva:
— Queria que todos eles se transformassem em corvos!
Nem bem falou isso, ouviu um ruflar de asas por cima de sua cabeça e, quando olhou, viu sete corvos pretos como carvão passando a voar por cima da casa.
Os pais fizeram de tudo para anular a maldição, mas nada conseguiram; ficaram tristíssimos com a perda dos sete filhos. Mas, de alguma forma, se consolaram com a filhinha, que logo ficou mais forte e foi crescendo, cada dia mais bonita.
Passaram-se anos. A menina nunca soube que tinha irmãos, pois os pais jamais falaram deles. Um dia, porém, escutou acidentalmente algumas pessoas falando dela:
— A menina é muito bonita, mas foi por culpa dela que os irmãos se desgraçaram...
Com grande aflição, ela procurou os pais e perguntou- lhes se tinha irmãos, e onde eles estavam. Os pais não puderam mais guardar segredo. Disseram que havia sido uma predestinação do céu, mas que o batismo dela fora a inocente causa.
A partir desse momento, não se passou um dia sem que a menina se culpasse pela perda dos irmãos, pensando no que fazer para salvá-los. Não tinha mais paz nem sossego.
Um dia, ela fugiu de casa, decidida a encontrar os irmão onde quer que eles estivessem, nesse vasto mundo, custasse o que custasse.
Levou consigo apenas um anel de seus pais como lembrança, um pão grande para quando tivesse fome, um cantil de água para matar a sede e um banquinho para quando quisesse descansar.
Foi andando, andando, se afastando cada vez mais, e assim chegou ao fim do mundo.
Então, foi falar com o sol. Mas ele era assustador, quente demais e comia crianças.
A menina fugiu e foi falar com a lua. Ela era horrorosa, mais fria que o gelo, e também comia crianças. Quando viu a menina, disse com um sorriso mau:
— Hum, hum... que cheirinho bom de carne humana!
A menina se afastou correndo e foi falar com as estrelas. Encontrou-as sentadas, cada uma na sua cadeirinha. Todas elas foram bondosas e amáveis com ela. A Estrela D'alva ficou em pé e lhe deu um ossinho de frango, dizendo:
— Sem este ossinho, você não poderá abrir a Montanha de Cristal, e é na Montanha de Cristal que estão seus irmãos.
A menina pegou o ossinho, embrulhou-o num pedaço de pano, e de novo se pôs a andar.
Andou, andou e afinal chegou na Montanha de Cristal. O portão estava fechado; quando desembrulhou o paninho para pegar o osso, ele estava vazio! Ela havia perdido o presente da estrela...
E agora, o que fazer? Queria salvar os irmãos, mas não tinha mais a chave da Montanha de Cristal.
Sem pensar muito, meteu o dedo indicador dentro do buraco da fechadura e girou-o, mas o portão continuou fechado.
Então, pegou uma faca em sua trouxinha, cortou fora um pedaço do dedo mindinho, meteu o pedaço do dedo na fechadura: felizmente, o portão se abriu.
Assim que ela entrou, um anãozinho veio a seu encontro:
— O que esta procurando, minha menina?
— Procuro meus irmãos, os sete corvos.
— Os senhores corvos não estão em casa e vão se demorar bastante. Mas, se quiser esperar, entre e fique à vontade.
Assim dizendo, o anãozinho foi para dentro e voltou trazendo a comida dos corvos em sete pratinhos, e a bebida em sete copinhos. A menina comeu um bocadinho de cada prato e bebeu um golinho de cada copo, mas deixou cair o anel que trouxera dentro do último copinho.
Nesse momento, ouviu-se um zunido e um bater de asas no ar.
— São os senhores corvos que vêm vindo - explicou o anãozinho.
Eles entraram, quiseram logo comer e beber e se dirigiram para seus pratos e copos. Então um disse para o outro:
— Alguém comeu no meu prato! Alguém bebeu no meu copo! E foi boca humana!
E quando o sétimo corvo acabou de beber a última gota de seu copo, o anel rolou até o seu bico. Ele reconheceu o anel de seus pais e exclamou:
— Queira Deus que nossa irmãzinha esteja aqui! Então, estaremos salvos!
Ao ouvir esse pedido, a menina, que estava atrás da porta, saiu e foi ao encontro deles. Imediatamente, os corvos recuperaram sua forma humana.
Abraçaram-se e se beijaram na maior alegria e, muito felizes, voltaram todos para casa.
RABISCO
Geovani Martins
Não era pra estar ali. De repente, tudo se confundia: tomava cerveja, sentia saudade, orgulho, vontade. Um moleque brotou com tinta, uns papos de escolta, a bola de metal dançando na lata, o cheiro forte de adrenalina. Quando viu, já subia na direção do terraço do prédio assustado pela mulher apavorada que gritava: “Pega ladrão!”.
O moleque da tinta era mais um desses que vivem rendendo homenagem pros pichadores que são mídia; querendo salvar cigarro, cerva, erva e, claro, tinta. Tudo na esperança de um dia partirem juntos prum mesmo rolé, de colocarem seus nomes na mesma marquise, beiral, janela. Ou até num tintão, chapisco, portão. O que importa é estar junto, sugando fama feito um carrapato chupa sangue. O mundo tá de saco cheio desses moleques, Fernando também.
Digo Fernando porque até então tinha ficado pra trás o nome que usava pra tatuar a cidade, já caminhava pro terceiro mês sem xarpi, nem nome de caneta tava mandando mais, evitava fazer o movimento das letras até com os dedos. No ônibus, buscava outras distrações que não fosse olhar pela janela: lia livros, jornais, mexia no celular, acompanhava o horóscopo nas TVs de propaganda. Mudava sua relação com a cidade na intenção de não ficar instigado escoltando picos, marolando numa pá de nome foda que atravessam seus caminhos.
Desde que nasceu Raul, seu filho, Fernando fez de tudo pra mudar o rumo. Parada difícil, lutar contra os instintos. Não queria mais querer pegar aquele topo em tal lugar, nem ser reconhecido como Maluco Disposição nas reús ou ser chamado pra assinar por aquela sigla que é relíquia. Queria mesmo se preocupar com a cria, em se manter vivo, presente. Mas pra isso, ele sempre soube, precisava deixar o xarpi de lado, deixar morrer o personagem que ergueu com cara e coragem. Ou então, no mínimo, se arriscar menos, pegar as paradas no baixo, fazer um rolé mais tranquilo. O que, no fim das contas, significa uma morte muito pior.
De onde vieram os tiros não viu, impossível saber se foi polícia, milícia ou morador. O que na real pouco importa; na pista de madrugada sempre vai ser você contra o mundo. Por sorte o prédio era baixo, cinco andares só, já tava quase no topo quando a mulher gritou e aconteceu o caô. Ainda bem que estava em dia com seus reflexos: em dois tempos alcançou o terraço, conseguiu organizar sua respiração. Lá de cima caçou com os olhos o moleque da tinta, mas já tinha vazado o filho da puta, nem chegou a subir no prédio.
Pensou em jogar a lata, explicar que não era ladrão, que não tava ali pra levar nada de ninguém. Muito pelo contrário, queria deixar de presente sua marca naquela pastilha. Já sabia tudo o que ia fazer: o tamanho dos nomes em sequência, o espaço entre um e outro. Ainda ia mandar uma frase dos Racionais: “Pesadelo do sistema não tem medo da morte”, e dedicar pros amigos que deram a vida pela arte.
Acabou não jogando a lata. Pra quem veste a capa da justiça nesse tipo de situação, o pichador e o ladrão têm quase sempre o mesmo valor e o mesmo destino. Fernando tava ligado nisso tudo, conhece bem seus adversários, resultado de anos dedicados a enfrentá-los. Não os despreza, porque compreende que são essenciais pro funcionamento do jogo. Afinal, tudo isso que é a pichação não teria o menor sentido se não houvesse tantos dispostos a tudo pra impedir as cores e os nomes que se espalham por ruas e propriedades. A partida só é possível quando os dois times estão em campo. Decidiu que era melhor esperar, acalmar o jogo. Se não vissem ninguém, logo metiam o pé. Não sairia com a vitória dessa vez, pois a pastilha continuaria carente de seus traços, mas estava convencido de que, em certas ocasiões, o empate acaba sendo um bom resultado.
O rabisco tem a ver com eternidade, marcar sua passagem pela vida. Fernando, assim como a grande maioria das pessoas, sentia a necessidade de não passar batido pelo mundo, e quando viu já
andava com todos os pichadores de sua rua. Era muito louco desvendar os mistérios da arte proibida, ouvir as histórias de nomes que sobrevivem na cidade há mais de vinte, trinta anos, e que com certeza, mesmo depois de apagados ou derrubados os muros, sobreviverão na memória. Queria entrar pra história desse jeito, ser lembrado e respeitado pelas pessoas certas. Essa sempre foi sua maior motivação na hora de rabiscar. Mais do que fama, revolta ou estética, embora tudo isso conspirasse pra coisa toda fazer sentido. Queria mesmo marcar sua cidade e seu tempo, atravessar gerações na rua, se transformar em visual.
A chegada do filho é que embaralhava suas ideias. Era uma segunda vida, bem ali nos seus braços. Tinha seus traços, logo teria seu sorriso, seu jeito de falar. Mas pra isso não podia estar ali naquele prédio. Quando anunciou que ia parar, vagabundo caiu em cima, falando que nego não para pela mãe, mas para pela mulher. E, por mais que incomodasse ser taxado como pau-mandado, Fernando nem se dava o trabalho de responder.
Tem dias que faz sol até de noite, o calor, o colchão encharcado de suor, não deixam as pessoas dormirem direito, muitas saem porque precisam respirar, por isso o bonde lá embaixo não parava de crescer, mesmo já passando das duas horas da manhã. Chegam sem entender o que está acontecendo, se informam do motivo da aglomeração, e então são envolvidas pela rua e a sua incrível capacidade de transformar pessoas comuns, que amam e choram, que sentem fome e saudade, em algo completamente diferente, numa unidade capaz de ir além dos limites de cada um dos indivíduos reunidos, que não se incomoda em ver o sangue escorrendo pela roupa do objeto atingido, se isso satisfizer a sua noção de justiça no momento exato do choque. Era mais uma vez a sede de fazer justiça contra o desconhecido, como sempre foi, desde o início dos tempos. Fernando olhava sem surpresa a aglomeração. Rabisco é risco, o homem é ruim, sempre soube. Pra cada ação uma reação e cada um que segure sua bronca.
Vontade que tinha era de meter a cara e pichar o prédio inteiro, na frente de todo mundo. Mostrar que mesmo depois da tinta marcar a propriedade a vida continua, até que uma força superior — como a de um Deus ou de uma arma — resolva interromper.
Tentava, mas não conseguia perceber o momento exato em que se deixou levar, em que uma força venceu a outra até chegar ali. A sensação que dava era de que a vida nunca deixa espaço pra planejar nada, as coisas vão todas acontecendo de um jeito ou de outro, sempre atropelando tudo o que é projetado. Só no futuro — quando ele vem — é que dá pra entender, rir ou chorar as histórias vividas.
Fernando lembra do pai batendo na porta. Era um som duro. A mãe dizia: “Ninguém abre!”. Só deixava o homem entrar quando estava sóbrio, e ela conhecia as batidas de quando estava bêbado. Gastou um dinheiro com aquele monte de fechaduras, mas os filhos não iam mais ter que ver o pai estirado no chão da cozinha. Fernando sentia vontade de abrir a porta, lembrava do velho ensinando ele a soltar pipa, levando pro festival na Quinta da Boa Vista, fazendo balões pra soltar em dia de santo.
Teve um mau pressentimento. Pela primeira vez desde o início da noite sentiu que as coisas fugiam completamente do seu controle. Não demorou pro desespero tomar conta de seu corpo. Alguma parada no meio de tudo que acontecia denunciava que dessa vez não passaria batido. Não era nada parecido com um filme revelando a vida antes da morte, como dizem. E sim uma memória viva, desordenada, indo e voltando o tempo inteiro, pulsando em colapso pela total incerteza, batendo com a mesma força e velocidade do coração. Era uma dor, um medo, um ódio da vida, tudo junto, misturado com o prédio, os tiros, o filho, a mulher gritando, aquela gente toda lá embaixo.
Dessa vez a adrenalina jogava contra. Gritava o mesmo mantra de sempre, de que a vida é uma só, mas tinha o efeito contrário. Ao invés de alimentar a coragem, sufocava. Como sempre sufoca o corpo que é dominado pelo medo.
No tempo em que ficou sem xarpi, Fernando gostava de chegar em casa cedo, saía correndo do trabalho pra receber o abraço da mulher, o sorriso ainda sem dentes do filho. Às vezes levava alguma coisa da rua pra comerem, nos fins de semana bebiam vinho ou cerveja, dependendo do clima. Gostava de quando deitava na cama e, ao invés de ficar lembrando das escoltas que tinha pra pegar na pista, só conseguia pensar na sorte que tinha por estar vivo.
Do alto do prédio, escoltando a patrulha improvisada, Fernando não resistiu, pensou no pai. Em como, depois de desistir de atravessar a porta, ficou jogado de um lado pro outro em casa de parente, até ficar quase por definitivo na rua, gastando o dinheiro todo da aposentadoria em cachaça. Lembrou das vezes em que disse por aí que seria melhor pro filho do que o pai foi pra ele, que daria pra Raul tudo o que não teve. Naquele momento, sentindo o peso de suas escolhas, teve a força necessária pra sair um pouco do lugar onde sempre esteve. Uma pena estar morto, o pai, e não adiantar nada aquela vontade que vinha de pedir desculpas.
Como estava não podia ficar. Precisava resolver a situação, tomar o controle, estudar as possibilidades. Será que o bonde lá embaixo já o tinha visto? Achava que não, queria acreditar que não, mas quem passaria tanto tempo procurando alguém sem nenhuma pista? Era melhor aceitar, já deviam tê-lo visto, estavam esperando, só pode.
Nesse caso, não existia forma de sair dali que não fosse na base do desenrolo. Não falasse nada, podia muito bem, tentando a fuga, levar um tiro; no susto, nunca se sabe. Jogou a lata, esperou alguns segundos pra ouvir o som que confirmava a entrega de sua mensagem, depois gritou: “Sou pichador!”, e se sentiu vivo.
Depois dessa primeira tentativa de conversa, um morador abriu as portas do prédio e subiram os homens. Ficaram ainda alguns lá embaixo, escoltando uma possível fuga. Estava declarado que não queriam conversa. Fernando sabia que esperando ali não corria o risco de levar um tiro à queima-roupa. Não com tanta gente acompanhando a história, dentro de um prédio residencial. Com certeza levaria um couro bem dado. Chutes e socos descontando a espera e sabe-se lá quantas outras frustrações.
O chato é que porrada também mata. Impossível esquecer o tanto de amigo que se foi depois de apanhar na pista, com traumatismo craniano, hemorragia interna. E, mesmo que não fosse sua hora, que sobrevivesse à surra, ia precisar explicar em casa aqueles hematomas todos, e saberiam que voltou a pichar, que cedeu ao vício, e o julgariam fraco e também hipócrita, por viver reclamando que seu pai o havia trocado pelo álcool e agora trocava seu filho por tinta.
Com o peso do corpo quebrou o telhado do prédio ao lado, o barulho pegou todos de surpresa, atravessando o silêncio e aquela tensão estática da noite até o momento. Por sorte não era longe o
chão, o telhado servia de proteção pro depósito do prédio, onde se encontrava todo tipo de tralha. O lugar perfeito pra se esconder, pensou. E só então pôde sentir doer o pé, doer muito, como se
tivesse torcido ou, ainda pior, quebrado. O melado escorria, encharcava a calça, podia sentir o cheiro e o calor subindo.
Conseguiu se arrastar pra trás de uma das madeiras grandes empilhadas, onde se sentiu mais protegido. Tinha vontade de gritar toda aquela dor, berrar todos os palavrões que conhecia pra ver se a dor passava, quando ouviu um, dois, três tiros. Todos pro alto, como denunciava o eco. Na certa disparados na intenção de assustá-lo, pra que se mexesse denunciando sua posição.
Depois do barulho dos tiros, entrou num silêncio e numa escuridão diferente de todas as outras que conhecia. Não demorou muito pra entender tudo o que existia a sua volta, certezas e mais certezas corriam por suas veias, ele vibrava. Estava claro, era sim pra estar ali. Aquilo era sua vida e sua história, e, mesmo se sentindo fraco e egoísta, concordou que não podia mais lutar contra o inevitável. Antes de desmaiar conseguiu ainda sonhar com o dia em que voltaria ali e mandaria seu nome em sequência nos dois prédios. Loki.
UMA AMIZADE SINCERA
Clarice Lispector
Não é que fôssemos amigos de longa data. Conhecemo-nos apenas no último ano da escola. Desde esse momento estávamos juntos a qualquer hora. Há tanto tempo precisávamos de um amigo que nada havia que não confiássemos um ao outro. Chegamos a um ponto de amizade que não podíamos mais guardar um pensamento: um telefonava logo ao outro, marcando encontro imediato. Depois da conversa, sentíamo-nos tão contentes como se nos tivéssemos presenteado a nós mesmos. Esse estado de comunicação contínua chegou a tal exaltação que, no dia em que nada tínhamos a nos confiar, procurávamos com alguma aflição um assunto. Só que o assunto havia de ser grave, pois em qualquer um não caberia a veemência de uma sinceridade pela primeira vez experimentada.
Já nesse tempo apareceram os primeiros sinais de perturbação entre nós. Às vezes um telefonava, encontrávamo-nos, e nada tínhamos a nos dizer. Éramos muito jovens e não sabíamos ficar calados. De início, quando começou a faltar assunto, tentamos comentar as pessoas. Mas bem sabíamos que já estávamos adulterando o núcleo da amizade. Tentar falar sobre nossas mútuas namoradas também estava fora de cogitação, pois um homem não falava de seus amores. Experimentamos ficar calados - mas tornávamo-nos inquietos logo depois de nos separarmos.
Minha solidão, na volta de tais encontros, era grande e árida. Cheguei a ler livros apenas para poder falar deles. Mas uma amizade sincera queria a sinceridade mais pura. A procura desta, eu começava a me sentir vazio. Nossos encontros eram cada vez mais decepcionantes. Minha sincera pobreza revelava-se aos poucos. Também ele, eu sabia, chegara ao impasse de si mesmo.
Foi quando, tendo minha família se mudado para São Paulo, e ele morando sozinho, pois sua família era do Piauí, foi quando o convidei a morar em nosso apartamento, que ficara sob a minha guarda. Que rebuliço de alma. Radiantes, arrumávamos nossos livros e discos, preparávamos um ambiente perfeito para a amizade. Depois de tudo pronto - eis-nos dentro de casa, de braços abanando, mudos, cheios apenas de amizade.
Queríamos tanto salvar o outro. Amizade é matéria de salvação.
Mas todos os problemas já tinham sido tocados, todas as possibilidades estudadas. Tínhamos apenas essa coisa que havíamos procurado sedentos até então e enfim encontrado: uma amizade sincera. Único modo, sabíamos, e com que amargor sabíamos, de sair da solidão que um espírito tem no corpo.
Mas como se nos revelava sintética a amizade. Como se quiséssemos espalhar em longo discurso um truísmo que uma palavra esgotaria. Nossa amizade era tão insolúvel como a soma de dois números: inútil querer desenvolver para mais de um momento a certeza de que dois e três são cinco.
Tentamos organizar algumas farras no apartamento, mas não só os vizinhos
reclamaram como não adiantou.
Se ao menos pudéssemos prestar favores um ao outro. Mas nem havia
oportunidade, nem acreditávamos em provas de uma amizade que delas não precisava. O mais que podíamos fazer era o que fazíamos: saber que éramos amigos. O que não bastava para encher os dias, sobretudo as longas férias.
Data dessas férias o começo da verdadeira aflição.
Ele, a quem eu nada podia dar senão minha sinceridade, ele passou a ser uma
acusação de minha pobreza. Além do mais, a solidão de um ao lado do outro, ouvindo música ou lendo, era muito maior do que quando estávamos sozinhos. E, mais que maior, incômoda. Não havia paz. Indo depois cada um para seu quarto, com alívio nem nos olhávamos.
É verdade que houve uma pausa no curso das coisas, uma trégua que nos deu mais esperanças do que em realidade caberia. Foi quando meu amigo teve uma pequena questão com a Prefeitura. Não é que fosse grave, mas nós a tornamos para melhor usá-la. Porque então já tínhamos caído na facilidade de prestar favores. Andei entusiasmado pelos escritórios dos conhecidos de minha família, arranjando pistolões para meu amigo. E quando começou a fase de selar papéis, corri por toda a cidade - posso dizer em consciência que não houve firma que se reconhecesse sem ser através de minha mão.
Nessa época encontrávamo-nos de noite em casa, exaustos e animados: contávamos as façanhas do dia, planejávamos os ataques seguintes. Não aprofundávamos muito o que estava sucedendo, bastava que tudo isso tivesse o cunho da amizade. Pensei compreender por que os noivos se presenteiam, por que o marido faz questão de dar conforto à esposa, e esta prepara-lhe afanada o alimento, por que a mãe exagera nos cuidados ao filho. Foi, aliás, nesse período que, com algum sacrifício, dei um pequeno broche de ouro àquela que é hoje minha mulher. Só muito depois eu ia compreender que estar também é dar.
Encerrada a questão com a Prefeitura - seja dito de passagem, com vitória nossa - continuamos um ao lado do outro, sem encontrar aquela palavra que cederia a alma. Cederia a alma? mas afinal de contas quem queria ceder a alma? Ora essa.
Afinal o que queríamos? Nada. Estávamos fatigados, desiludidos.
A pretexto de férias com minha família, separamo-nos. Aliás ele também ia ao Piauí. Um aperto de mão comovido foi o nosso adeus no aeroporto. Sabíamos que não nos veríamos mais, senão por acaso. Mais que isso: que não queríamos nos rever. E sabíamos também que éramos amigos. Amigos sinceros.
OS DRAGÕES
Murilo Rubião
Os primeiros dragões que apareceram na cidade muito sofreram com o atraso dos nossos costumes. Receberam precários ensinamentos e a sua formação moral ficou irremediavelmente comprometida pelas absurdas discussões surgidas com a chegada deles ao lugar.
Poucos souberam compreendê-los e a ignorância geral fez com que, antes de iniciada a sua educação, nos perdêssemos em contraditórias suposições sobre o país e raça a que poderiam pertencer.
A controvérsia inicial foi desencadeada pelo vigário. Convencido de que eles, apesar da aparência dócil e meiga, não passavam de enviados do demônio, não me permitiu educá-los. Ordenou que fossem encerrados numa casa velha, previamente exorcismada, onde ninguém poderia penetrar. Ao se arrepender de seu erro, a polêmica já se alastrara e o velho gramático negava-lhes a qualidade de dragões, “coisa asiática, de importação europeia”. Um leitor de jornais, com vagas ideias científicas e um curso ginasial feito pelo meio, falava em monstros antediluvianos. O povo benzia-se, mencionando mulas sem cabeça, lobisomens.
Apenas as crianças, que brincavam furtivamente com os nossos hóspedes, sabiam que os novos companheiros eram simples dragões. Entretanto, elas não foram ouvidas. O cansaço e o tempo venceram a teimosia de muitos. Mesmo mantendo suas convicções, evitavam abordar o assunto.
Dentro em breve, porém, retomariam o tema. Serviu de pretexto uma sugestão do aproveitamento dos dragões na tração de veículos. A ideia pareceu boa a todos, mas se desavieram asperamente quando se tratou da partilha dos animais. O número destes era inferior ao dos pretendentes.
Desejando encerrar a discussão, que se avolumava sem alcançar objetivos práticos, o padre firmou uma tese: os dragões receberiam nomes na pia batismal e seriam alfabetizados.
Até aquele instante eu agira com habilidade, evitando contribuir para exacerbar os ânimos. E se, nesse momento, faltou-me a calma, o respeito devido ao bom pároco, devo culpar a insensatez reinante. Irritadíssimo, expandi o meu desagrado:
— São dragões! Não precisam de nomes nem do batismo!
Perplexo com a minha atitude, nunca discrepante das decisões aceitas pela coletividade, o reverendo deu largas à humildade e abriu mão do batismo. Retribuí o gesto, resignando-me à exigência de nomes.
Quando, subtraídos ao abandono em que se encontravam, me foram entregues para serem educados, compreendi a extensão da minha responsabilidade. Na maioria, tinham contraído moléstias desconhecidas e, em consequência, diversos vieram a falecer. Dois sobreviveram, infelizmente os mais corrompidos. Mais bem-dotados em astúcia que os irmãos, fugiam, à noite, do casarão e iam se embriagar no botequim. O dono do bar se divertia vendo-os bêbados, nada cobrava pela bebida que lhes oferecia.A cena, com o decorrer dos meses, perdeu a graça e o botequineiro passou a negar-lhes álcool. Para satisfazerem o vício, viram-se forçados a recorrer a pequenos furtos.
No entanto eu acreditava na possibilidade de reeducá-los e superar a descrença de todos quanto ao sucesso da minha missão. Valia-me da amizade com o delegado para retirá-los da cadeia, onde eram recolhidos por motivos sempre repetidos: roubo, embriaguez, desordem.
Como jamais tivesse ensinado dragões, consumia a maior parte do tempo indagando pelo passado deles, família e métodos pedagógicos seguidos em sua terra natal. Reduzido material colhi dos sucessivos interrogatórios a que os submetia. Por terem vindo jovens para a nossa cidade, lembravam-se confusamente de tudo, inclusive da morte da mãe, que caíra num precipício, logo após a escalada da primeira montanha. Para dificultar a minha tarefa, ajuntava-se à debilidade da memória dos meus pupilos o seu constante mau humor, proveniente das noites maldormidas e ressacas alcoólicas.
O exercício continuado do magistério e a ausência de filhos contribuíram para que eu lhes dispensasse uma assistência paternal. Do mesmo modo, certa candura que fluía dos seus olhos obrigava-me a relevar faltas que não perdoaria a outros discípulos.
Odorico, o mais velho dos dragões, trouxe-me as maiores contrariedades. Desastradamente simpático e malicioso, alvoroçava-se todo à presença de saias. Por causa delas, e principalmente por uma vagabundagem inata, fugia às aulas. As mulheres achavam-no engraçado e houve uma que, apaixonada, largou o esposo para viver com ele.
Tudo fiz para destruir a ligação pecaminosa e não logrei separá-los. Enfrentavam-me com uma resistência surda, impenetrável. As minhas palavras perdiam o sentido no caminho: Odorico sorria para Raquel e esta, tranquilizada, debruçava-se novamente sobre a roupa que lavava.
Pouco tempo depois, ela foi encontrada chorando perto do corpo do amante. Atribuíram sua morte a tiro fortuito, provavelmente de um caçador de má pontaria. O olhar do marido desmentia a versão.
Com o desaparecimento de Odorico, eu e minha mulher transferimos o nosso carinho para o último dos dragões. Empenhamo-nos na sua recuperação e conseguimos, com algum esforço, afastá-lo da bebida. Nenhum filho talvez compensasse tanto o que conseguimos com amorosa persistência. Ameno no trato, João aplicava-se aos estudos, ajudava Joana nos arranjos domésticos, transportava as compras feitas no mercado. Findo o jantar, ficávamos no alpendre a observar sua alegria, brincando com os meninos da vizinhança. Carregava-os nas costas, dava cambalhotas.
Regressando, uma noite, da reunião mensal com os pais dos alunos, encontrei minha mulher preocupada: João acabara de vomitar fogo. Também apreensivo, compreendi que ele atingira a maioridade.
O fato, longe de torná-lo temido, fez crescer a simpatia que gozava entre as moças e rapazes do lugar. Só que, agora, demorava-se pouco em casa. Vivia rodeado por grupos alegres, a reclamarem que lançasse fogo. A admiração de uns, os presentes e convites de outros, acendiam-lhe a vaidade. Nenhuma festa alcançava êxito sem a sua presença. Mesmo o padre não dispensava o seu comparecimento às barraquinhas do padroeiro da cidade.
Três meses antes das grandes enchentes que assolaram o município, um circo de cavalinhos movimentou o povoado, nos deslumbrou com audazes acrobatas, engraçadíssimos palhaços, leões amestrados e um homem que engolia brasas. Numa das derradeiras exibições do ilusionista, alguns jovens interromperam o espetáculo aos gritos e palmas ritmadas:
— Temos coisa melhor! Temos coisa melhor!
Julgando ser brincadeira dos moços, o anunciador aceitou o desafio:
— Que venha essa coisa melhor!
Sob o desapontamento do pessoal da companhia e os aplausos dos espectadores, João desceu ao picadeiro e realizou sua costumeira proeza de vomitar fogo.
Já no dia seguinte, recebia várias propostas para trabalhar no circo. Recusou-as, pois dificilmente algo substituiria o prestígio que desfrutava na localidade. Alimentava ainda a pretensão de se eleger prefeito municipal.
Isso não se deu. Alguns dias após a partida dos saltimbancos, verificou-se a fuga de João.
Várias e imaginosas versões deram ao seu desaparecimento. Contavam que ele se tomara de amores por uma das trapezistas, especialmente destacada para seduzi-lo; que se iniciara em jogos de cartas e retomara o vício da bebida.
Seja qual for a razão, depois disso muitos dragões têm passado pelas nossas estradas. E por mais que eu e meus alunos, postados na entrada da cidade, insistamos que permaneçam entre nós, nenhuma resposta recebemos. Formando longas filas, encaminham-se para outros lugares, indiferentes aos nossos apelos.
ASSOMBRAÇÕES DE AGOSTO
Gabriel García Márquez
Chegamos a Arezzo pouco antes do meio-dia, e perdemos mais de duas horas buscando o castelo renascentista que o escritor venezuelano Miguel Otero Silva havia comprado naquele rincão idílico da planície toscana. Era um domingo de princípios de agosto, ardente e buliçoso, e não era fácil encontrar alguém que soubesse alguma coisa nas ruas abarrotadas de turistas.
Após muitas tentativas inúteis voltamos ao automóvel, abandonamos a cidade por uma trilha de ciprestes sem indicações viárias, e uma velha pastora de gansos indicou-nos com precisão onde estava o castelo. Antes de se despedir, perguntou-nos se pensávamos dormir por lá, e respondemos, pois era o que tínhamos planejado, que só íamos almoçar.
— Ainda bem — disse ela —, porque a casa é assombrada. Minha esposa e eu, que não acreditamos em aparições de meio-dia, debochamos de sua credulidade. Mas nossos dois filhos, de nove e sete anos, ficaram alvoroçados com a ideia de conhecer um fantasma em pessoa.
Miguel Otero Silva, que além de bom escritor era um anfitrião esplêndido e um comilão refinado, nos esperava com um almoço de nunca esquecer. Como havia ficado tarde não tivemos tempo de conhecer o interior do castelo antes de sentarmos à mesa, mas seu aspecto visto de fora não tinha nada de pavoroso, e qualquer inquietação se dissipava com a visão completa da cidade vista do terraço florido onde almoçávamos.
Era difícil acreditar que naquela colina de casas empoleiradas, onde mal cabiam noventa mil pessoas, houvessem nascido tantos homens de gênio perdurável. Ainda assim, Miguel Otero Silva nos disse com seu humor caribenho que nenhum de tantos era o mais insigne de Arezzo.
— O maior — sentenciou — foi Ludovico.
Assim, sem sobrenome: Ludovico, o grande senhor das artes e da guerra, que havia construído aquele castelo de sua desgraça, e de quem Miguel Otero nos falou durante o almoço inteiro. Falou-nos de seu poder imenso, de seu amor contrariado e de sua morte espantosa. Contou-nos como foi que num instante de loucura do coração havia apunhalado sua dama no leito onde tinham acabado de se amar, e depois atiçou contra si mesmo seus ferozes cães de guerra que o despedaçaram a dentadas. Garantiu-nos, muito a sério, que a partir da meia-noite o espectro de Ludovico perambulava pela casa em trevas tentando conseguir sossego em seu purgatório de amor.
O castelo, na realidade, era imenso e sombrio.
Mas em pleno dia, com o estômago cheio e o coração contente, o relato de Miguel só podia parecer outra de suas tantas brincadeiras para entreter seus convidados. Os 82 quartos que percorremos sem assombro depois da sesta tinham padecido de todo tipo de mudanças graças aos seus donos sucessivos. Miguel havia restaurado por completo o primeiro andar e tinha construído para si um dormitório moderno com piso de mármore e instalações para sauna e cultura física, e o terraço de flores imensas onde havíamos almoçado. O segundo andar, que tinha sido o mais usado no curso dos séculos, era uma sucessão de quartos sem nenhuma personalidade, com móveis de diferentes épocas abandonados à própria sorte. Mas no último andar era conservado um quarto intacto por onde o tempo tinha esquecido de passar. Era o dormitório de Ludovico.
Foi um instante mágico. Lá estava a cama de cortinas bordadas com fios de ouro, e o cobre-leito de prodígios de passamanarias ainda enrugado pelo sangue seco da amante sacrificada. Estava a lareira com as cinzas geladas e o último tronco de lenha convertido em pedra, o armário com suas armas bem escovadas, e o retrato a óleo do cavalheiro pensativo numa moldura de ouro, pintado por algum dos mestres florentinos que não teve a sorte de sobreviver ao seu tempo. No entanto, o que mais me impressionou foi o perfume de morangos recentes que permanecia estancado sem explicação possível no ambiente do dormitório.
Os dias de verão são longos e parcimoniosos na Toscana, e o horizonte se mantém em seu lugar até as nove da noite. Quando terminamos de conhecer o castelo eram mais de cinco da tarde, mas Miguel insistiu em levar-nos para ver os afrescos de Piero della Francesca na Igreja de São Francisco, depois tomamos um café com muita conversa debaixo das pérgulas da praça, e quando regressamos para buscar as maletas encontramos a mesa posta. Portanto, ficamos para jantar.
Enquanto jantávamos, debaixo de um céu de malva com uma única estrela, as crianças acenderam algumas tochas na cozinha e foram explorar as trevas nos andares altos. Da mesa ouvíamos seus galopes de cavalos errantes pelas escadarias, os lamentos das portas, os gritos felizes chamando Ludovico nos quartos tenebrosos. Foi deles a má ideia de ficarmos para dormir. Miguel Otero Silva apoiou-os encantado, e nós não tivemos a coragem civil de dizer que não.
Ao contrário do que eu temia, dormimos muito bem, minha esposa e eu num dormitório do andar térreo e meus filhos no quarto contíguo. Ambos haviam sido modernizados e não tinham nada de tenebrosos.
Enquanto tentava conseguir sono contei os doze toques insones do relógio de pêndulo da sala e recordei a advertência pavorosa da pastora de gansos. Mas estávamos tão cansados que dormimos logo, num sono denso e contínuo, e despertei depois das sete com um sol esplêndido entre as trepadeiras da janela. Ao meu lado, minha esposa navegava no mar aprazível dos inocentes. "Que bobagem", disse a mim mesmo, "alguém continuar acreditando em fantasmas nestes tempos.", Só então estremeci com o perfume de morangos recém-cortados, e vi a lareira com as cinzas frias e a última lenha convertida em pedra, e o retrato do cavalheiro triste que nos olhava há três séculos por trás na moldura de ouro.
Pois não estávamos na alcova do térreo onde havíamos deitado na noite anterior, e sim no dormitório de Ludovico, debaixo do dossel e das cortinas empoeirentas e dos lençóis empapados de sangue ainda quente de sua cama maldita.
VENHA VER O PÔR-DO-SOL
Ligia Fagundes Telles
Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando, modestas casas espalhadas sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde.
Ele a esperava encostado a uma árvore. Esguio e magro, metido num largo blusão azul-marinho, cabelos crescidos e desalinhados, tinha um jeito jovial de estudante.
— Minha querida Raquel.
Ela encarou-o, séria. E olhou para os próprios sapatos.
— Veja que lama. Só mesmo você inventaria um encontro num lugar destes.
Que ideia, Ricardo, que ideia! Tive que descer do táxi lá longe, jamais ele chegaria aqui em cima.
Ele riu entre malicioso e ingênuo.
— Jamais? Pensei que viesse vestida esportivamente e agora me aparece nessa elegância. Quando você andava comigo, usava uns sapatões de sete léguas, lembra?
— Foi para me dizer isso que você me fez subir até aqui? — perguntou ela, guardando as luvas na bolsa. Tirou um cigarro. — Hein?!
— Ah, Raquel… — ele tomou-a pelo braço. — Você está uma coisa de linda. E fuma agora uns cigarrinhos pilantras, azul e dourado. Juro que eu tinha que ver ainda uma vez toda essa beleza, sentir esse perfume. Então? Fiz mal?
— Podia ter escolhido um outro lugar, não? — Abrandara a voz. — E o que é isso aí? Um cemitério?
Ele voltou-se para o velho muro arruinado. Indicou com o olhar o portão de ferro, carcomido pela ferrugem.
— Cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos, desertaram todos. Nem os fantasmas sobraram, olha aí como as criancinhas brincam sem medo — acrescentou apontando as crianças na sua ciranda.
Ela tragou lentamente. Soprou a fumaça na cara do companheiro.
— Ricardo e suas ideias. E agora? Qual é o programa?
Brandamente ele a tomou pela cintura.
— Conheço bem tudo isso, minha gente está enterrada aí. Vamos entrar um instante e te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo.
Ela encarou-o um instante. E vergou a cabeça para trás numa risada.
— Ver o pôr do sol? Ah, meu Deus… Fabuloso, fabuloso! Me implora um último encontro, me atormenta dias seguidos, me faz vir de longe para esta buraqueira, só mais uma vez, só mais uma! E para quê? Para ver o pôr do sol num cemitério.
Ele riu também, afetando encabulamento como um menino pilhado em falta.
— Raquel, minha querida, não faça assim comigo. Você sabe que eu gostaria era de te levar ao meu apartamento, mas fiquei mais pobre ainda, como se isso fosse possível. Moro agora numa pensão horrenda, a dona é uma Medusa que vive espiando pelo buraco da fechadura.
— E você acha que eu iria?
— Não se zangue, sei que não iria, você está sendo fidelíssima. Então pensei, se pudéssemos conversar um pouco numa rua afastada… — disse ele, aproximando-se mais.
Acariciou-lhe o braço com as pontas dos dedos. Ficou sério. E aos poucos inúmeras rugazinhas foram-se formando em redor dos seus olhos ligeiramente apertados. Os leques de rugas se aprofundaram numa expressão astuta. Não era nesse instante tão jovem como aparentava. Mas logo sorriu e a rede de rugas desapareceu sem deixar vestígio. Voltou-lhe novamente o ar inexperiente e meio desatento.
— Você fez bem em vir.
— Quer dizer que o programa… E não podíamos tomar alguma coisa num bar?
— Estou sem dinheiro, meu anjo, vê se entende.
— Mas eu pago.
— Com o dinheiro dele? Prefiro beber formicida. Escolhi este passeio porque é de graça e muito decente, não pode haver um passeio mais decente, não concorda comigo? Até romântico.
Ela olhou em redor. Puxou o braço que ele apertava.
— Foi um risco enorme, Ricardo. Ele é ciumentíssimo. Está farto de saber que tive meus casos. Se nos pilha juntos, então sim, quero só ver se alguma das suas fabulosas ideias vai me consertar a vida.
— Mas me lembrei deste lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu anjo. Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado, veja, completamente abandonado — prosseguiu ele, abrindo o portão. Os velhos gonzos gemeram. — Jamais seu amigo ou um amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui.
— É um risco enorme, já disse. Não insista nessas brincadeiras, por favor. E se vem um enterro? Não suporto enterros.
— Mas enterro de quem? Raquel, Raquel, quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? Há séculos ninguém mais é enterrado aqui, acho que nem os ossos sobraram, que bobagem. Vem comigo, pode me dar o braço, não tenha medo.
O mato rasteiro dominava tudo. E não satisfeito de ter-se alastrado furioso pelos canteiros, subira pelas sepulturas, infiltrara-se ávido pelos rachões dos mármores, invadira as alamedas de pedregulhos esverdinhados, como se quisesse com sua violenta força de vida cobrir para sempre os últimos vestígios da morte. Foram andando pela longa alameda banhada de sol. Os passos de ambos ressoavam sonoros como uma estranha música feita do som das folhas secas trituradas sobre os pedregulhos. Amuada mas obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura com os pálidos medalhões de retratos esmaltados.
— É imenso, hein? E tão miserável, nunca vi um cemitério mais miserável, que deprimente — exclamou ela, atirando a ponta do cigarro na direção de um anjinho de cabeça decepada. — Vamos embora, Ricardo, chega.
— Ah, Raquel, olha um pouco para esta tarde! Deprimente por quê? Não sei onde foi que eu li, a beleza não está nem na luz da manhã nem na sombra da noite, está no crepúsculo, nesse meio-tom, nessa ambiguidade. Estou-lhe dando um crepúsculo numa bandeja e você se queixa.
— Não gosto de cemitério, já disse. E ainda mais cemitério pobre.
Delicadamente ele beijou-lhe a mão.
— Você prometeu dar um fim de tarde a este seu escravo.
— É, mas fiz mal. Pode ser muito engraçado, mas não quero me arriscar mais.
— Ele é tão rico assim?
— Riquíssimo. Vai me levar agora numa viagem fabulosa até o Oriente. Já ouviu falar no Oriente? Vamos até o Oriente, meu caro.
Ele apanhou um pedregulho e fechou-o na mão. A pequenina rede de rugas voltou a se estender em redor dos seus olhos. A fisionomia, tão aberta e lisa, repentinamente escureceu, envelhecida. Mas logo o sorriso reapareceu e as rugazinhas sumiram.
— Eu também te levei um dia para passear de barco, lembra? Recostando a cabeça no ombro do homem, ela retardou o passo.
— Sabe, Ricardo, acho que você é mesmo meio tantã… Mas apesar de tudo, tenho às vezes saudade daquele tempo. Que ano aquele. Quando penso, não entendo como aguentei tanto, imagine, um ano!
— É que você tinha lido A Dama das Camélias, ficou assim toda frágil, toda sentimental. E agora? Que romance você está lendo agora?
— Nenhum — respondeu ela franzindo os lábios. Deteve-se para ler a inscrição de uma laje despedaçada: — À minha querida esposa, eternas saudades — leu em voz baixa. — Pois sim. Durou pouco essa eternidade.
Ele atirou o pedregulho num canteiro ressequido.
— Mas é esse abandono na morte que faz o encanto disto. Não se encontra mais a menor intervenção dos vivos, a estúpida intervenção dos vivos. Veja — disse apontando uma sepultura fendida, a erva daninha brotando insólita de dentro da fenda — o musgo já cobriu o nome da pedra. Por cima do musgo, ainda virão as raízes, depois as folhas… Esta, a morte perfeita, nem lembrança, nem saudade, nem o nome sequer. Nem isso.
Ela aconchegou-se mais a ele. Bocejou.
— Está bem, mas agora vamos embora que já me diverti muito, faz tempo que não me divirto tanto, só mesmo um cara como você podia me fazer divertir assim.
— Deu-lhe um rápido beijo na face. — Chega, Ricardo, quero ir embora.
— Mais alguns passos…
— Mas este cemitério não acaba mais, já andamos quilômetros! — Olhou para trás. — Nunca andei tanto, Ricardo, vou ficar exausta.
— A boa vida te deixou preguiçosa? Que feio — lamentou ele, impelindo-a para frente. — Dobrando esta alameda, fica o jazigo da minha gente, é de lá que se vê o pôr do sol. Sabe, Raquel, andei muitas vezes por aqui de mãos dadas com minha prima. Tínhamos então doze anos. Todos os domingos minha mãe vinha trazer flores e arrumar nossa capelinha onde já estava enterrado meu pai. Eu e minha priminha vínhamos com ela e ficávamos por aí, de mãos dadas, fazendo tantos planos. Agora as duas estão mortas.
— Sua prima também?
— Também. Morreu quando completou quinze anos. Não era propriamente bonita, mas tinha uns olhos… Eram assim verdes como os seus, parecidos com os seus. Extraordinário, Raquel, extraordinário como vocês duas… Penso agora que toda a beleza dela residia apenas nos olhos, assim meio oblíquos, como os seus.
— Vocês se amaram?
— Ela me amou. Foi a única criatura que… — Fez um gesto. — Enfim, não tem importância.
Raquel tirou-lhe o cigarro, tragou e depois devolveu-o.
— Eu gostei de você, Ricardo.
— E eu te amei. E te amo ainda. Percebe agora a diferença?
Um pássaro rompeu o cipreste e soltou um grito. Ela estremeceu.
— Esfriou, não? Vamos embora.
— Já chegamos, meu anjo. Aqui estão meus mortos.
Pararam diante de uma capelinha coberta de alto a baixo por uma trepadeira selvagem, que a envolvia num furioso abraço de cipós e folhas. A estreita porta rangeu quando ele a abriu de par em par. A luz invadiu um cubículo de paredes enegrecidas, cheias de estrias de antigas goteiras. No centro do cubículo, um altar meio desmantelado, coberto por uma toalha que adquirira a cor do tempo. Dois vasos de desbotada opalina ladeavam um tosco crucifixo de madeira. Entre os braços da cruz, uma aranha tecera dois triângulos de teias já rompidas, pendendo como farrapos de um manto que alguém colocara sobre os ombros do Cristo. Na parede lateral, à direita da porta, uma portinhola de ferro dando acesso para uma escada de pedra descendo em caracol para a catacumba.
Ela entrou na ponta dos pés, evitando roçar mesmo de leve naqueles restos da capelinha.
— Que triste que é isto, Ricardo. Nunca mais você esteve aqui?
Ele tocou na face da imagem recoberta de poeira. Sorriu, melancólico.
— Sei que você gostaria de encontrar tudo limpinho, flores nos vasos, velas, sinais da minha dedicação, certo? Mas já disse que o que mais amo neste cemitério é precisamente este abandono, esta solidão. As pontes com o outro mundo foram cortadas e aqui a morte se isolou total. Absoluta.
Ela adiantou-se e espiou através das enferrujadas barras de ferro da portinhola. Na semiobscuridade do subsolo, os gavetões se estendiam ao longo das quatro paredes que formavam um estreito retângulo cinzento.
— E lá embaixo?
— Pois lá estão as gavetas. E nas gavetas, minhas raízes. Pó, meu anjo, pó — murmurou ele.
Abriu a portinhola e desceu a escada. Aproximou-se de uma gaveta no centro da parede, segurando firme na alça de bronze, como se fosse puxá-la.
— A cômoda de pedra. Não é grandiosa?
Detendo-se no topo da escada, ela inclinou-se mais para ver melhor.
— Todas essas gavetas estão cheias?
— Cheias?… Só as que têm um retrato e a inscrição, está vendo? Nesta está o retrato da minha mãe, aqui ficou minha mãe — prosseguiu ele tocando com os dedos num medalhão esmaltado, embutido no centro da gaveta.
Ela cruzou os braços. Falou baixinho, um ligeiro tremor na voz.
— Vamos, Ricardo, vamos.
— Você está com medo.
— Claro que não, estou é com frio. Suba e vamos embora, estou com frio.
Ele não respondeu. Adiantara-se até um dos gavetões na parede oposta e acendeu um fósforo. Inclinou-se para o medalhão frouxamente iluminado.
— A priminha Maria Emília. Lembro-me até do dia em que tirou esse retrato, duas semanas antes de morrer… Prendeu os cabelos com uma fita azul e veio se exibir, estou bonita? Estou bonita? — falava agora consigo mesmo, doce e gravemente. — Não é que fosse bonita, mas os olhos… Venha ver, Raquel, é impressionante como tinha olhos iguais aos seus.
Ela desceu a escada, encolhendo-se para não esbarrar em nada.
— Que frio faz aqui. E que escuro, não estou enxergando!
Acendendo outro fósforo, ele ofereceu-o à companheira.
— Pegue, dá para ver muito bem… — Afastou-se para o lado. — Repare nos
olhos.
— Mas está tão desbotado, mal se vê que é uma moça… — Antes da chama se apagar, aproximou-a da inscrição feita na pedra. Leu em voz alta, lentamente: — Maria Emília, nascida em vinte de maio de mil e oitocentos e falecida… — Deixou cair o palito e ficou um instante imóvel. — Mas esta não podia ser sua namorada, morreu há mais de cem anos! Seu menti…
Um baque metálico decepou-lhe a palavra pelo meio. Olhou em redor. A peça estava deserta. Voltou o olhar para a escada. No topo, Ricardo a observava por detrás da portinhola fechada. Tinha seu sorriso meio inocente, meio malicioso.
— Isto nunca foi o jazigo de sua família, seu mentiroso! Brincadeira mais cretina! — exclamou ela, subindo rapidamente a escada. — Não tem graça nenhuma, ouviu?
Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trinco da portinhola de ferro.
Então deu uma volta à chave, arrancou-a da fechadura e saltou para trás.
— Ricardo, abre isto imediatamente! Vamos, imediatamente! — ordenou, torcendo o trinco. — Detesto este tipo de brincadeira, você sabe disso. Seu idiota! É no que dá seguir a cabeça de um idiota desses. Brincadeira mais estúpida!
— Uma réstia de sol vai entrar pela frincha da porta, tem uma frincha na porta.
Depois vai se afastando devagarinho, bem devagarinho. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo.
Ela sacudia a portinhola.
— Ricardo, chega, já disse! Chega! Abre imediatamente, imediatamente! — Sacudiu a portinhola com mais força ainda, agarrou-se a ela, dependurando-se por entre as grades. Ficou ofegante, os olhos cheios de lágrimas. Ensaiou um sorriso. — Ouça, meu bem, foi engraçadíssimo, mas agora preciso ir mesmo, vamos, abra…
Ele já não sorria. Estava sério, os olhos diminuídos. Em redor deles, reapareceram as rugazinhas abertas em leque.
— Boa noite, Raquel.
— Chega, Ricardo! Você vai me pagar!… — gritou ela, estendendo os braços por entre as grades, tentando agarrá-lo. — Cretino! Me dá a chave desta porcaria, vamos! — exigiu, examinando a fechadura nova em folha. Examinou em seguida as grades cobertas por uma crosta de ferrugem. Imobilizou-se. Foi erguendo o olhar até a chave que ele balançava pela argola, como um pêndulo. Encarou-o, apertando contra a grade a face sem cor. Esbugalhou os olhos num espasmo e amoleceu o corpo. Foi escorregando. — Não, não…
Voltado ainda para ela, ele chegou até a porta e abriu os braços. Foi puxando as duas folhas escancaradas.
— Boa noite, meu anjo.
Os lábios dela se pregavam um ao outro, como se entre eles houvesse cola. Os olhos rodavam pesadamente numa expressão embrutecida.
— Não…
Guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido. No breve silêncio, o som dos pedregulhos se entrechocando úmidos sob seus sapatos. E, de repente, o grito medonho, inumano:
— NÃO!
Durante algum tempo ele ainda ouviu os gritos que se multiplicaram, semelhantes aos de um animal sendo estraçalhado. Depois, os uivos foram ficando mais remotos, abafados como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamado. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda.
A CAUSA SECRETA
Machado de Assis